Raymond
Aron e a preservação
dos
valores da doutrina
liberal
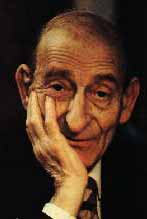
Raymond
Aron (1905/1983) é autor
de obra verdadeiramente
monumental, iniciada
ainda na década
de trinta, por volta
dos trinta anos de
idade. Durante a Segunda
Guerra teve de interrompê-la
desde que integrou
a resistência
francesa à ocupação
alemã, retomando-a no
período subseqüente
e até o seu
falecimento (1983).
Além da obra
teórica, na
imprensa e no movimento
político em
geral travou uma luta
sem quartel contra
a ameaça soviética
que pairava sobre a
Europa, enfrentando
por vezes de modo isolado
a ascendência
esmagadora que o marxismo
alcançou na
França. Nas Memórias,
aparecidas pouco antes
do falecimento, registra
e comenta o essencial
desse embate.
Terminada a guerra, Aron passa a trabalhar como jornalista
profissional no importante periódico Figaro. Escreveu regularmente
nesse jornal durante trinta anos (de 1947 a 1977).
Nesse período, apoiou firmemente as reformas
de De Gaulle e engajou-se na causa da Europa. No fortalecimento da unidade,
dos países que não haviam caído sob o jugo comunista,
enxergava a única hipótese de enfrentamento da ameaça
soviética. Da tribuna do jornal conservador prestou inestimável
serviço à causa da democracia.
Em 1955, inscreve-se em concurso para ocupar uma cátedra
(sociologia) na Sorbonne, sendo aprovado. Ali teve oportunidade de criar uma
corrente autônoma, atenta aos valores, ao arrepio da tradição
da “sociologia francesa”. A partir de 1969, transfere-se para o
Collège de France.
Aron começa por elaborar uma substancial obra
filosófica, versando a teoria da história. Conseguiu dar forma
acabada ao que foi denominado de “teoria neokantiana da história”,
nestes livros: Essai sur une theorie de l´histoire dans l´Allemagne
conemporaine; la philosophie critique de l´histoire (1938; sucessivamente
reeditado); Introduction a la Philosophie de l´Histoire. Essai
sur les limites de l´objectivité historique (tese de doutoramento,
1938; editada como livro em 1981) e Dimensions de la conscience historique (1960).
Outra esfera do saber em que deixou-nos uma notável
contribuição reside nas relações internacionais.
O texto fundamental em que apresenta sua teoria apareceu em 1962 (Paix
et guerre entre les nations, traduzida ao português), complementando-a
pela análise da doutrina de Clausewitz ( Penser la guerre,
2 vols., 1976).
Em seus cursos da Sorbonne deu forma a uma sociologia,
inspirando-se sobretudo em Max Weber, que daria origem a uma corrente
sociológica apta a contrapor-se à chamada “sociologia francesa”,
caudatária do marxismo. Entre aqueles que reviu para publicação,
destacam-se Dix-huit leçons sur la societé industrielle (1962); La
lutte de classes (1964); Democratie et totalitarisme (1966) e Les
etapes de la pensée sociologique (1967). Nesta mesma linha publicou
ainda diversos livros, entre estes La sociologie allemande contemporaine (sucessivamente
reeditado); Trois essais sur l´age industrielle (1966) e De
la condition historique de la sociologie (1970). Estão traduzidos
no Brasil as Etapas do pensamento sociológico (1970)
e uma coletânea muito difundida que foi intitulada Ensaios de sociologia.
Estudos políticos, publicado em 1971, reúne
um conjunto de ensaios agrupados em três partes. A primeira, denominada
de “Idéias”, contém textos teóricos que resumem
o seu entendimento da diferença entre ciência natural (neutra
a valores) e ciência social, que se constitui em presença de valores.
Para explicitar em que consiste precisamente sua posição, confronta-a
a Maquiavel, Marx, Pareto e Max Weber. Seu entendimento da política
corresponde ao aprofundamento da visão de Weber, ponto de referência
privilegiado de sua filosofia da história. As duas partes seguintes
correspondem a uma espécie de aplicação da teoria à ação
política no interior do Estado (2ª parte) e às relações
entre os Estados (3ª parte).
Max Weber estabelecera que na análise dos temas
relacionados à cultura (ciências sociais), o pesquisador escolhe
arbitrariamente os fatos e somente a partir daí pode aspirar à obtenção
de conclusões de validade universal. Deter-se na discussão acerca
da escolha inicial somente levaria a confronto de avaliações,
explicitando as preferências de cada um, matéria na qual não
pode haver postura científica (idêntica para todos). Aron aceita
a premissa mas quer dar o passo seguinte no tocante à responsabilidade
do intelectual quanto às conseqüências de seu posicionamento.
É preciso ter presente que nos cerca de quarenta anos transcorridos
desde o início do pós-guerra (1945) até o seu falecimento
(1983), Aron presenciou o avanço da ameaça soviética diante
do aplauso da grande maioria da intelectualidade francesa. Aquele aplauso se
dava em nome da “cientificidade do marxismo”. A primeira questão
consistia, pois, em examinar se de fato, essa pretensa cientificidade sairia
incólume de análise rigorosa.
No ensaio introdutório à coletânea
(“Ciência e consciência da sociedade”) escreve o seguinte: “Na
medida em que um partido apresenta sua ideologia como verdade científica
(o marxismo, por exemplo), a sociologia deve submeter tal ideologia à crítica,
e o sociólogo deve aceitar com indiferença a acusação
de que “está fazendo política”. As proposições
principais do marxismo (relações de forças e de produção,
mais valia, exploração e lucro, pauperização, regime
econômico e classes sociais, alienação econômica
e outras formas de alienação etc.) dizem respeito a fatos, relações,
tendências evolutivas. São verdadeiras ou falsas, prováveis
ou improváveis, provadas ou não; se o sociólogo nem sempre
consegue demonstrá-las ou refutá-las rigorosamente, isso é porque
elas estão expostas em termos tão equívocos que terminam
por se esvaziarem de qualquer sentido, por não terem o mínimo
de precisão indispensável. O exame e a crítica das proposições
de fato incluídas em todas as ideologias não podem deixar de
ser objeto de atenção da sociologia, por isso a sociologia não
pode evitar uma tomada de posição em favor dos programas e das
interpretações dos partidos, ou contra eles”.
Ao dizer que o intelectual não pode ignorar
as conseqüências de seu posicionamento, Aron não pretende
advogar a impossibilidade da ciência social. Entre outras coisas escreve
num dos ensaios: “A despeito do engajamento, que simboliza a escolha
das questões ou dos centros de interesse, o historiador e o sociólogo
desejam chegar a uma verdade rigorosamente objetiva, parcial mas universalmente
válida”. A impossibilidade reside no que se poderia denominar
de “política científica”, isto é, de uma política
que se pretendesse universal, capaz de resolver o inelutável conflito
social em favor de uma das partes. A análise da política sempre
pode chegar a conclusões válidas. O problema de sua aplicação,
no regime democrático, é que este envolve a negociação
e a barganha, escapando a qualquer tipo de pretensão científica.
Detém-se na análise da adesão
ao sistema soviético dos intelectuais que, não sendo comunistas,
dispunham-se a exaltar seus supostos êxitos econômicos,
atribuindo-lhe superioridade em relação ao sistema capitalista.
Pretendiam ser “progressistas”, isto é, expressar a aceitação
daquilo que corresponderia à inevitável evolução
da humanidade. Para identificá-los plenamente, transcreve trechos do
período da guerra fria de figuras eminentes do mundo católico,
colaboradores da consagrada revista Esprit, como Jean-Marie Domenach,
Albert Béguin, ou tidos como independentes, a exemplo de Maurice Duverger,
passando naturalmente por Jean Paul Sartre. Ainda que não tivesse ocorrido
o fim desse sistema, que revelaria toda a mistificação a que
correspondia (Kolakowski batizou-o de a grande mentira), na década
de setenta já se tornara difícil negar a incapacidade do comunismo
de proporcionar bem estar material, para não falar da evidência
do caráter totalitário do regime.
Nas Memórias pergunta porque espíritos de qualidade
perdem o bom senso, mesmo quando não aderem seja ao marxismo seja ao
marxismo-leninismo. O ópio dos intelectuais (traduzido
e editado no Brasil) teve o mérito de demonstrar que eram vítimas
de mitologia banal e pueril. Os mitos apontados são os da esquerda,
do proletariado e da revolução.
No que se refere ao mito da esquerda, escreve Aron: “Não
neguei que se pudesse distinguir, na Assembléia, uma direita e uma esquerda.
O que negava era a existência de uma esquerda eterna, através
das diversas conjunturas históricas. Animada pelos mesmos valores, unida
nas mesmas aspirações”. Cita situações em
que, na própria história da França, se torna patente
a ausência de homogeneidade entre agrupamentos arrolados como tais. Pode
ser comprovado simplesmente constatando a freqüência com que se
apela à “unidade da esquerda”.
E prossegue: “Do mesmo modo, a propósito da
revolução e do proletariado, esforcei-me por reduzir a poesia
ideológica à prosa da realidade. A classe operária constitui “autêntica
inter-subjetividade” ? Pode tornar-se a classe dirigente? É libertada
quando um partido exerce o poder absoluto em seu nome, mas despojando-a
dos instrumentos da relativa e parcial liberação, conquistados
na democracia capitalista? Porque a revolução enquanto tal constitui
um bem? O “mito da revolução” serve de refúgio
ao pensamento utópico, torna-se intercessor misterioso, imprevisível,
entre o real e o ideal. A violência atrai, fascina. O trabalhismo e a “sociedade
escandinava sem classes” jamais encontraram, junto à esquerda
européia, sobretudo francesa, o prestígio alcançado pela
Revolução russa, a despeito da guerra civil, dos horrores da
coletivização e dos grandes expurgos. É necessário
dizer a despeito ou por causa?”.
Talvez se possa afirmar que, no combate à influência
marxista, sejam mais importantes suas contribuições ao
desenvolvimento da sociologia, a partir da premissa fundamental de Weber quanto à imprevisibilidade
das consequências da valoração, no estudo da ação
humana, impeditiva da transformação da história numa ciência
exata. Nesse particular, sua obra é fundamental na recuperação
do espírito da historiografia clássica.
Enquanto Weber tratou de evidenciar o significado da criação
humana no plano cultural –negada pelo marxismo, a exemplo da religião
e da moral --, Aron atacou o âmago do marxismo, ou seja, a exaltação
da luta de classes como motor da história, conduzente à ditadura
do proletariado. Explica Aron: “Chocava-me o contraste (e a similitude)
entre as teorias da classe dirigente e a das classes sociais. O fascismo italiano
utilizou amplamente a concepção Mosca-Pareto da classe dirigente,
enquanto os marxistas somente conheciam a das classes sociais; confundiam a
classe socialmente dominante com a classe dirigente. Ora, o Partido Bolchevique,
detentor do poder, representa não a classe operária mas uma classe
dirigente, elevada ao primeiro plano após a eliminação
da antiga classe dirigente”.
Nessa linha de meditação, Aron irá precisar
o conceito de sociedade industrial, em confronto com as precedentes.
Apontará como nota distintiva o crescimento baseado na elevação
da produtividade do trabalho. Ao contrário dos analistas que se revelavam
incapazes de adotar uma atitude crítica, diante da propaganda soviética,
Aron irá demonstrar que, na construção dessa sociedade,
não havia indícios efetivos de superioridade soviética
sobre a ocidental. Exemplifica com os que chegaram a afirmar que o pão
seria distribuído gratuitamente na União Soviética, impossível
de acontecer dada a baixa produtividade do trabalho agrícola ali verificada.
Para quem quisesse ver, era flagrante o atraso da agricultura russa. Em sua
visita aos Estados Unidos nos anos cinqüenta, Krushov (que então
se encontrava à frente do poder, no início do período
subseqüente á morte de Stalin) revelou o seu espanto com a existência
do milho híbrido. A Rússia então deblaterava contra a
teoria genética e logo se viu o resultado: de tradicional exportador
de grãos antes da Revolução, o país tornou-se grande
importador.
Os textos sobre a sociedade industrial, antes referidos,
serviram para demonstrar não só a inexistência da
alardeada superioridade soviética, em matéria de organização
do processo produtivo, como também que a característica distintiva
do regime situava-se no plano político. E aqui as evidências demonstravam
que as denúncias do stalinismo não conduziram a alterações
substanciais, já que o sistema cooptativo em vigor baseava-se também
na presença de Estado policial implacável que, para usar a feliz
expressão de Hanah Arendt, transformara o povo russo em massa amorfa,
privada de qualquer espécie de solidariedade, onde as pessoas não
confiavam umas nas outras.
No ambiente intelectual francês em que viveu, Aron
achava que a postura da intelectualidade francesa predispunha à derrota
diante da União Soviética. Marcara-o profundamente a capitulação
de Munique quando o Ocidente consagrou a política de expansão
de Hitler, admitindo ilusoriamente que se deteria no projeto de “reconstituir” as
fronteiras alemãs tradicionais no chamado Terceiro Reich, e temia que
a Europa se encaminhasse na direção do capitulacionismo diante
do despotismo oriental, simbolizado pelo Império Soviético. Entendia
também que o destino do Ocidente estava associado à Aliança
Atlântica, onde defendia a presença dos Estados Unidos. O essencial
dessa pregação reuniu-o no livro Em defesa da Europa decadente (1977). É autor
de uma distinção importante entre o que designou como “liderança
americana”, a que os Estados Unidos tinham direito, legitimamente e o
que chamou de “república imperial”, comportamento a que
o país tinha sido empurrado em certas circunstâncias, por ambições
imperialistas de correntes políticas ali existentes, como foi o caso
da intervenção no Vietnã.
Assim, graças a Aron, a sociologia francesa deixou
de ser uma espécie de “samba de uma nota só”, simples
repetidora das teses centrais da vulgata marxista, dando lugar a uma alternativa
atenta ao valor e à presença da cultura. Em nossos dias, essa
evidência é comprovada, entre outras, pelo vigor e a fecundidade da
obra de Raymond Boudon.
Por sua combatividade e persistência, Aron conseguir
formar expressivo grupo de intelectuais liberais, que deram curso à sua
obra, após a sua morte, em 1983. Presentemente esse grupo acha-se reunido
em torno da revista Commentaire e da Fundação Raymond
Aron.
Memoires.
50 ans ded refletion
politique.
Paris, Julliard,
1983, p.320